A minha relação com o Jaime foi, desde sempre, moldada pela tia Júlia. É claro que eu me apercebia disso, mas só nestas últimas semanas se tornou claro o frio, calculado, propósito de tudo. E é isso que me tem perturbado, porque não creio ter compreendido ainda a verdadeira extensão daquilo que, receio, seja…
(espera, deixa-me explicar outra coisa primeiro)
Esta manhã, no quiosque do aeroporto, enquanto olhava para os livros (velhos hábitos nunca se perdem, de resto como ia eu passar o tempo? A roer (ainda mais) as unhas?), houve uma recordação que me assaltou quando vi uma edição alemã do Dom Quixote (sim, comemorativa do aniversário e por isso encadernada e com ilustrações — é tão lindo achar coisas destas num quiosque de paperbacks!).
A forma como a tia Júlia nos fazia ler os clássicos era verdadeiramente insidiosa. Esse era um daqueles seus planos abertamente maquiavélicos de que, depois, ela própria se ria. Acontecia eu achar, casualmente, metido na minha mochila da escola, entre os livros de Física e Matemática, as Fábulas de La Fontaine, ilustradas por Gustave Doré. E, em vez de passar a tarde a fazer os trabalhos da escola, devorava aquelas histórias com animais sábios e tolos.
É claro que eu sabia que fora ela quem colocara o livro ali. Mas era um segredo. Só meu e dela. E depois, inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo, haveria um interrogatório. Subtil, mas impiedoso.
Estaríamos a lanchar, e ela, cortando o queijo, diria:
“Diz o povo que comer muito queijo torna as pessoas esquecidas.”
E eu:
“Ai é? “
“Mas não os meninos bonitos. E tu és um menino bonito, não és, António? Diz lá…”
E eu ria-me.
“Um corvo é que não sou de certeza! Mas a tia é uma raposa! Das mais matreiras!”
E ríamo-nos os dois. E o Jaime ficava a olhar para nós, a perguntar:
“O que foi? O que foi?”
“Explica-lhe lá…” diria ela, e eu passaria a tarde a contar as fábulas que lera ao Jaime, começando pela da raposa que elogiara a voz do corvo para que ele abrisse o bico e deixasse cair um queijo. Ela ficava a ouvir-nos. Sorridente. Orgulhosa. E eu feliz, por saber que não a deixara mal. O facto de ela me deixar falar, ensinar algo ao Jamie, sabendo que eu sabia e confiando esse saber a mim, era o único elogio de que eu precisava. E isto era viciante.
Meses ou semanas depois, acharia eu, por acaso, na mesa da sala, uma cópia do Dom Quixote, ilustrado também por Gustave Doré, aberto na página em que Sancho Pança puxa o burro teimoso monte acima e olha desconsolado para o Dom Quixote e o Rocinante, que caíram ridiculamente de pernas para o ar, derrotados pelos moinhos. Divertidíssimo, eu pegava no livro, lia umas quantas páginas, e tinha de o “roubar”. Punha-o na mochila e lia-o em casa, de uma assentada, ao longo de umas quantas noites. Depois devolvia-o. Foi neste sistema que depois vieram “A Divina Comédia”. E o “Paraíso Perdido”. Gustave Doré como diabólico cúmplice da tia Júlia.
Mas o que me veio à memória no aeroporto foi uma conversa que tivémos já nem sei quando, em que ela aproveitou para me tentar explicar uma coisa através do Dom Quixote. Tinhamos começado a falar de religião (assunto banal naquela casa) e depois de fé, e de crença, e no final a conversa descambou mais ou menos nisto, exemplo típico da lição de moral à la tia Júlia:
“António, as pessoas acreditam no que querem acreditar. Não podemos ridicularizar a fé das outras pessoas porque aquilo em que elas acreditam é a realidade para elas. A realidade é sempre uma construção mental do indivíduo. Lembras-te do Dom Quixote? Do episódio dos moinhos? Dom Quixote e Sancho Pança passam por uns moinhos num monte e o Dom Quixote, convencido de que estes são gigantes, ataca-os e acaba espatifado e feito num oito, com o Sancho Pança espantado com tanta loucura e ridículo.
Mas agora, imagina tu o oposto. Imagina que, de facto, os moinhos eram gigantes que, ao longe, Dom Quixote toma por moinhos porque não acredita na existência de gigantes. Seriam ambos certamente atacados pelos gigantes e Dom Quixote, fraquito como era, não conseguiria defender-se nem a si nem ao seu amigo. Talvez se safasse, porque, afinal de contas, tinha uma armadura, mas os gigantes seriam certamente maus e impiedosos, pelo que, nesta versão inversa, Sancho Pança não escaparia com vida e seria ele a jazer no chão, mas inevitavelmente morto. E seria o Dom Quixote, sobrevivente amolgado, a lamentar a sua própria insanidade.
Agora, o que achas preferível? Alguém que se submete ao ridículo por acreditar em algo sobrenatural ou alguém incapaz de salvar um amigo da morte por não acreditar naquilo que tem em frente dos olhos?”
segunda-feira, 16 de janeiro de 2006
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)


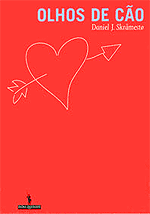

4 comentários:
Esta conversa da tia Júlia para o sobrinho não me parece muito real... parece algo que se pode escrever, mas não algo em registo oral.
Tens toda a razão, mas isto não é uma transcrição do oral. isto é alguém a contar numa carta algo de que se recorda. Que seja posto em forma de discurso directo é apenas uma opção do autor do texto (neste caso, a personagem Jaime).
perdão - a personagem António!
Ai, ai, esse fascínio pelo Jaime contagiou o Daniel :p
Enviar um comentário